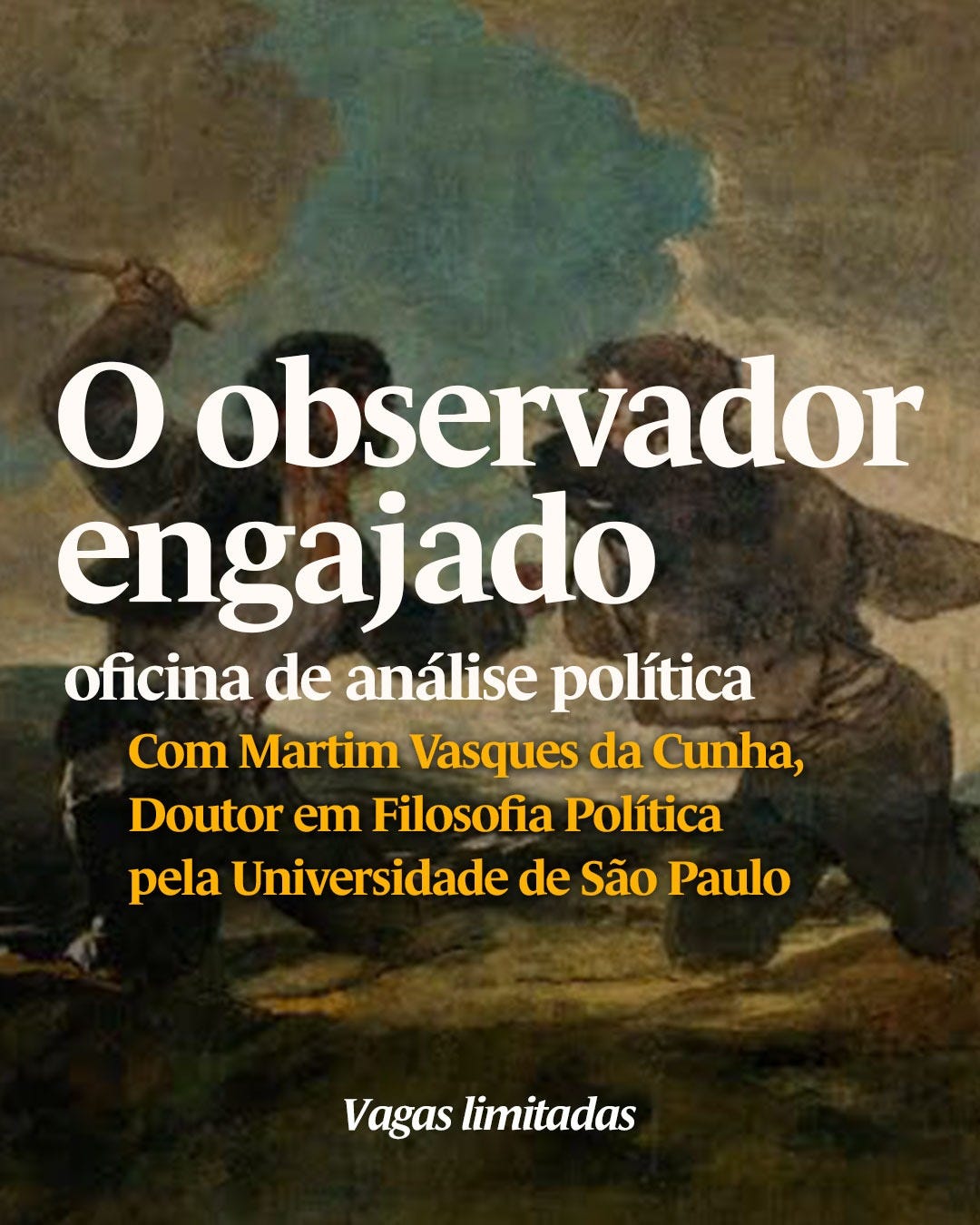F de Fincher
Verdades e mentiras e mentiras que se transformam em verdades são a obsessão da filmografia de David Fincher.
Nota: no final deste texto, há a proposta da minha Oficina de Análise Política, O Observador Engajado.
A Rede Social (The Social Network), de David Fincher, é uma pequena pérola sobre o ressentimento como mola propulsora dos relacionamentos da chamada Geração Facebook — em outras palavras: a geração em que estamos vivendo justamente agora.
É um dos poucos filmes em que aparentemente se observa a presença de um roteirista em vez a do diretor. No caso, o roteiro em questão é de Aaron Sorkin que, depois de A few good men e The west wing, foi alçado à categoria de um David Mamet no quesito diálogos rápidos e incisivos. Não é nada disso: Sorkin tem ainda de comer muito feijão e arroz para chegar ao mesmo patamar do autor de Glengarry Glen Ross, mas um dia ele chega lá.
Ainda assim, o filme diverte e faz o espectador refletir sobre o que verdadeiramente importa: este mistério chamado “relacionamento humano”. O ponto de partida de A Rede Social é que Mark Zuckerberg criou o Facebook porque levou um merecido pé na bunda. Ao som da música hipnótica de Trent Reznor — que, quando acerta faz coisas lindas, mas quando erra, sai de baixo — observamos Zuckerberg como um nerd mimado, quase autista, que não se importa com ninguém, passa por cima de todos e, no fim, vai ficar sozinho como todos nós, apesar de ter todo o dinheiro do mundo.
Lembrei-me de Ortega y Gasset quando via a figura de Jesse Eisenberg mimetizando os passos de Zuckerberg na ciranda demente que só o ressentimento faz com as pessoas. O protagonista de A Rede Social é o perfeito senhõrito satisfecho, o senhorzinho satisfeito que, achando-se um gênio da informática, usa e abusa de quem dá a ideia original e de quem dá o dinheiro para o seu projeto, devora-os como um parasita e cai no autoengano perpétuo de quem acha que criou algo revolucionário. Não fez nada disso. Como diria o escritor Bruce Sterling, “o Facebook não passa de uma favela virtual comandada por um moleque que age como um cacique.”
Os senhorzinhos satisfeitos do nosso tempo acham que a civilização se fez por acaso e não por esforço. Acreditam piamente que são os outros que devem trabalhar por e para ele. Desconhecem a tradição de inúmeras escolhas difíceis que foram feitas e que formam a corrente de responsabilidade que estruturou o mundo onde eles vivem.
E não pensem que David Fincher não meditou sobre isso e que sou eu quem está a alucinar nas entrelinhas.
Uma das maiores provas dessa autoconsciência do cineasta é Mank, película lançada em 2020, na qual temos o retrato de um Dom Quixote feito pelo ponto-de-vista do fiel escudeiro Sancho Pança. A referência não é mero preciosismo. O famoso romance espanhol, escrito por Miguel de Cervantes, é citado deliberadamente duas vezes no filme – e, por coincidência, nas suas cenas mais importantes.
A primeira cena é quando o personagem-título, Herman Mankiewicz (um Gary Oldman pleno de sutileza), roteirista de cinema genial e genioso, dado a cometer sempre o famoso aforismo “in vino veritas”, decide consolar a amante do magnata William Randolph Hearst (Charles Dance, implacável), a atriz em decadência Marion Davies (uma adorável Amanda Seyfried), em um passeio nos jardins do castelo de San Simeon, especialmente construído pelo milionário para sua concubina.
Ela está irritada porque queria interpretar Maria Antonieta na tela prateada, mas é considerada uma “mera comediante” pelos produtores que, ironicamente, bajulam o seu patrono – e que também a despreza.
A conversa entre Herman e Davies tem como pano de fundo uma série de animais enjaulados. Regados a bebida barata, Mank (seu apelido em Hollywood) e Marion revelam ao espectador quem é quem na “cidade das redes”, do pulha Louis B. Mayer (chefão da MGM, o maior estúdio da época) ao pusilânime Irving Thalberg (garoto prodígio, produtor para Mayer de vários sucessos cinematográficos, morto precocemente em 1936).
Quando ela pergunta se poderia interpretar a rainha de Versailles, Herman hesita e sai-se com uma resposta única: “Não, você seria perfeita como Dulcinéia” – a donzela que Dom Quixote tenta salvar das agruras do mundo.
A segunda sequência é o clímax do filme. Alguns anos depois, na sala de jantar de San Simeon, um Mank ainda mais bêbado e enfurecido – pois descobriu uma trama de mentira e enganos, criada por Hearst e Mayer, para fraudar a campanha estadual na Califórnia, que ajudou o republicano Frank Merriam e prejudicou o democrata Upton Sinclair – decide confrontar o mecenas de Marion Davies com a única arma que dispõe: a palavra.
Do nada, vende a ideia de um filme para Louis Mayer. A história seria sobre um novo tipo de Dom Quixote, um empresário das comunicações, que teria um ideal a seguir, mas se corromperia com o passar do tempo e se transformaria em tudo o que odeia. A venda não é bem sucedida, pois, bem no arremate da sua fala, Mank vomita na frente dos convidados, observando jocosamente que “o vinho branco saiu junto com o peixe”.
Para quem conhece um pouco da história do cinema, é evidente que esse enredo sobre o Quixote dos anos 1930 seria depois conhecido como Cidadão Kane (1941), o primeiro longa-metragem de Orson Welles, co-escrito por ninguém menos que Mankiewicz. Durante anos, críticos e cinéfilos colocaram Welles como o Dom Quixote desta mítica película que teria enfrentado o poderoso Hearst, uma vez que ela seria inspirada em sua biografia – inclusive com referências controversas ao relacionamento com Davies.
A consequência desta façanha foi uma sombra amaldiçoada sobre a carreira de Welles, que passou o resto da vida tentando recuperar a independência dada pelo estúdio RKO, quando o ofereceu a palavra-final sobre a criação do seu filme de estreia (algo impossível de acontecer em uma cidade onde imperava “o gênio do sistema”, centrado na figura inescrupulosa do produtor). Obviamente, nunca conseguiu repetir tal privilégio – e é cômico saber, se não fosse trágico, que o próprio Welles, falecido em 1985, deixou vários longas inacabados, entre eles um sobre... Dom Quixote.
Ocorre que David Fincher – junto com seu falecido pai, Jack, que escreveu o roteiro de Mank – decidiu ir por um caminho ousado e surpreendente. Sem cair na autopromoção de Pauline Kael, crítica da New Yorker que publicou um longo ensaio na década de 1970, intitulado Raising Kane (1971), afirmando que o verdadeiro responsável daquele que foi considerado como “o melhor filme de todos os tempos” era ninguém menos que o medíocre Herman Mankiewicz e não o grande Orson Welles, o diretor de O Quarto do Pânico (2002) transcende todas essas fofocas de bastidores e faz um intenso estudo de personagem sobre quem sobrevive à lógica do controle e da ilusão que a sustenta.
Desde o maravilhoso Zodíaco (2008), passando pelas séries que produziu com a Netflix (House of Cards e Manhunter) e na chamada “trilogia da incerteza” (além de A Rede Social, formada por Millennium: Os Homens que Não Amavam as Mulheres [2011] e Garota Exemplar [2014]) até chegar ao thriller enigmático que é The Killer (2023), David Fincher se aprofundou em um tema que ainda era incipiente nos seus clássicos da década de 1990 (Seven [1995] e Clube da Luta [1999]): a vinculação macabra entre verdade e poder.
Mank, neste sentido, é o seu filme mais maduro, não só porque ele lida com o assunto cinematográfico por excelência – a ficção –, mas sim porque, ao contrário das obras anteriores, ele apresenta alguém que, independente da mentira que o rodeia, ainda assim consegue manter uma pureza interior – e vencer, mesmo que seja uma única vez, os potentados de Hollywood.
Daí a referência ao Quixote de Cervantes. Mank não se vê como o Cavaleiro da Triste Figura do seu enredo porque, no fundo, apesar de ser um bêbado irresponsável (palavras do próprio), ele nunca se vendeu. Temos aqui o Sancho Pança que denuncia as atrocidades de um Hearst ou que antevê a arrogância fatal de um Orson Welles pois, sob a aparência de um mero “bobo da corte” (como seu irmão, Joe, o chama), na verdade Herman é muito mais próximo do “tolo”, o “louco” que é obrigado a contar o que acontece de fato nas engrenagens de um reino estéril e devastado pela insanidade dos seus governantes.
Talvez sem saber, o personagem – e o homem – Mankiewicz são parte de uma longa tradição literária e filosófica, celebrada por Erasmo de Rotterdam em Elogio da Loucura (1509). Neste pequeno livro que fez a cabeça de vários escritores humanistas – entre eles, Cervantes, que se inspirou nele para o seu Quixote –, a personagem principal, Moriae (loucura, em latim), trajada em trapos e guizos, apresenta-se em um palco e anuncia que tudo que se encontra no mundo está sob seu domínio. Poucas vezes alguém conseguiu captar tão bem aquilo que Camões chamava de “o desconcerto do mundo” em uma figura simbólica palpável.
Assim, Erasmo permite que sua Dama Loucura, assim como Mank, fale sem nenhum pudor sobre os estúpidos da sua época, em especial os sábios que proferiam antiquadas fórmulas escolásticas, e também sobre o clero, despido de qualquer função em uma era em que a crise espiritual já se instalou por completo e era vista como uma banalidade.
Anos depois, a figura do “tolo” se cristalizaria na tragédia de William Shakespeare, Rei Lear (1606). Apesar de Herman Mankiewicz se assemelhar mais ao Sancho Pança espanhol (se quisermos colocá-lo como coadjuvante de Welles no making-of de Cidadão Kane, segundo a intenção maliciosa de Pauline Kael), o roteirista fracassado é, no fundo, a releitura moderna deste personagem antológico da peça inglesa. Afinal, em Hollywood, os poderosos estão completamente ensandecidos, tal como o velho Lear. São Quixotes que lutam a favor dos moinhos de vento, e não contra eles, ao contrário do que narra o clássico livro de Cervantes. E não adianta nada ter um Sancho ao seu lado, pois qual seria o seu aviso ao mestre? Nenhum, é claro. Não à toa, Fincher faz questão de mostrar, tanto na cena em San Simeon já descrita como na hora do confronto com Welles, ao pedir crédito pelo trabalho que resume uma vida inteira, que Mank interprete o louco apto a denunciar o mecanismo de submissão que movimenta a magia do cinema.
O roteiro escrito por Mankiewicz que resultou no filme de Orson Welles foi o seu derradeiro ataque contra este sistema nefasto. A ironia é que os mesmos poderosos que o rejeitaram foram obrigados a premiá-lo com um Oscar na categoria, em 1942. O fato é que eles sempre souberam que Mank foi o único que “farejou quando um sujeito pleno de poder está fedendo de podre”.
Em A Rede Social, o óbvio contraponto a este peixe podre que é Mark Zuckerberg na película não está em Eduardo Saverin, o amigo que foi passado para trás, mas sim nos gêmeos Cameron e Tyler Winklevoss — que alegaram que a ideia principal do Facebook foi roubada sem a menor consideração por Zuckerberg. Eles são tudo o que “Zuckie” gostaria que fosse, não só em termos físicos como também morais: têm disciplina, agem como cavalheiros, aceitam a derrota com nobreza e, quando partem para o ataque, sabem que isto deve ser o último recurso. Aliás, são eles quem recebem o melhor conselho de vida no filme, saído da boca de um ficcional Larry Summers, diretor de Harvard na época, e que diz as seguintes palavras com a brutalidade que só a experiência é capaz de afirmar: “Esqueçam isso. Partam para outra. Façam novos projetos”.
Eles não são senhorzinhos satisfeitos. São os poucos nobres que ainda restam neste planeta. Nobreza significa conquistar as coisas com mérito, esforço, dedicação, paciência — e, de novo, a palavrinha que irrita nossas sensibilidades democráticas, disciplina. Mark Zuckerberg é um homem-massa desprovido de qualquer moral exceto o ressentimento e a inveja; os gêmeos Winklevoss são os eternos beautiful losers que um dia saberão que a arte da perda é a única na qual vale a pena se aperfeiçoar.
Porque, no fim, baby, you’re a rich man indeed, mas o que importa é que a única forma de escapar do ciclo de ressentimento é a resignação. Partir para novos projetos, novos horizontes. Reinventar-se. Jamais olhar para trás. E saber que o passado é coisa para otários. Foi o que sempre fez David Fincher, ao provar que a única verdade que importa, a da ficção, supera qualquer mentira.
O QUE É?
Esta oficina de análise política pretende ajudá-lo em uma única atividade: a de entender a realidade do nosso tempo sendo um observador desapaixonado, mas sem perder o engajamento das suas convicções.
Atualmente, a maioria dos diagnósticos políticos é muito mais engajada, mas muito pouco observadora. E não só isso: todas sempre tem algum rabo preso com alguém e todas sempre pagam o preço salgado do pedágio, seja psíquico ou ideológico.
Por isso, resolvi recriar algo que eu já tinha feito entre 2008 e 2010, quando fui diretor do Departamento de Humanidades do Instituto Internacional de Ciências Sociais (IICS).
Quem me acompanha desde aquela época sabe que o fundamento do meu programa naquele projeto foi o seminário de textos clássicos, feito aos moldes da Educação Liberal.
Nestes encontros, havia um tutor (ou um professor) que lia com os alunos um determinado trecho ou capítulo de um livro célebre e todos discutiam o seu conteúdo, fazendo conexões com temas da atualidade.
É o mesmo procedimento que desejo praticar com a oficina de análise política.
Além disso, inspirado pelos cursos de Jonas Madureira e Pedro Sette-Câmara (aliás, o próprio Pedro foi um dos professores nos módulos realizados no IICS), vi que poderia aplicar esse formato para o ambiente digital e manter uma qualidade única.
Portanto, eis a razão do título da oficina: O Observador Engajado.
A meta é ensinar o aluno a ser, como pretendia Raymond Aron em seus artigos (não à toa, o nome é a adaptação de um famoso conceito do escritor francês), alguém que observa a realidade política com o engajamento de quem sempre busca a verdade. Porque, afinal, esta é a primeira (e talvez única) definição do que é a filosofia política praticada desde os tempos de Sócrates, Platão e Aristóteles.
EMENTA DAS AULAS (SUJEITA A ALTERAÇÕES)
A oficina de análise política começará no dia 11 de novembro de 2023, sábado, das 10h30 às 13hs.
Serão oito encontros semanais, a serem feitos ao vivo e via Google Meet.
Posteriormente, as aulas gravadas serão enviadas aos alunos (obviamente, eu pediria que eles não repassem a ninguém).
Haverá duas interrupções no cronograma: uma por causa do feriado de 15 de novembro e outra devido ao recesso de final de ano (Natal e Réveillon).
O número máximo de participantes é de 12 pessoas.
Abaixo, as datas dos encontros e os textos a serem lidos (os temas serão decididos via sorteio com os próprios alunos, conforme o decorrer da oficina, para manter o dinamismo dos encontros):
11/11 – Leitura e discussão de Leo Strauss, The City and Man, págs. 3 e 4.
25/11 – Leitura e discussão de Michael Oakeshott, Sobre a História, págs. 130 a 137.
02/12 – Leitura e discussão de Eric Voegelin, Ordem e História Vol. 2 – O Mundo da Pólis, págs. 69 a 72.
Leitura e discussão de Henrique de Lima Vaz, Ontologia e História, págs. 193 a 197.
09/12 – Leitura e discussão de Max Weber, “Política como vocação”, in: Ciência e Política – Duas Palestras, págs. 55-56 e 104.
16/12 – Leitura e discussão de José Ortega y Gasset, Mirabeau, ou: o político, págs. 60-74.
06/01/2024 – Leitura e discussão de Hans Urs Von Balthazar, The Glory of the Lord, Vol 1., págs 245-248.
13/01 – Leitura e discussão de Eric Voegelin, Ordem e História, Vol 1 – Israel e Revelação, págs. 454-455.
20/01 – Leitura e discussão de Eric Voegelin, A Nova Ciência da Política, págs. 55-58.
Cada aluno receberá previamente o texto (ou trechos dele) a ser discutido para assim preparar-se a respeito dos assuntos a serem comentados.
É bom ressaltar que as conversas sempre serão em torno de princípios políticos e, eventualmente, eles serão aplicados a temas do cotidiano (Por exemplo: a leitura Ortega y Gasset pode ajudá-lo entender melhor o caráter de Donald Trump, assim como um texto de Eric Voegelin te auxiliará a compreender o que está por trás das guerras na Ucrânia e em Israel).
META DA OFICINA
Durante a oficina (e também no final dela), o aluno aprenderá e preparará um relatório de diagnóstico a respeito de uma situação política específica, sorteada e escolhida por ele no decorrer dos encontros, a partir dos temas e dos conceitos apresentados e discutidos. Este relatório pode ser feito por escrito (as instruções estarão logo a seguir), mas há a alternativa de fazer um vídeo com duração máxima de 5 minutos.
Esta será a sua avaliação final – pois eu acredito que somente assim o aluno aprenderá a ser um observador engajado.
Enquanto isso, estarei à disposição para resolver suas dúvidas de duas maneiras:
1) Criação de um grupo de WhatsApp em que trocaremos ideias com os participantes da oficina;
2) Encontros semanais, de duração de uma hora, em que orientarei o aluno a escrever o seu relatório até o término das aulas.
Se o aluno escolher a opção por escrito, o seu texto deverá ter, no máximo, 10 páginas e será redigido em Word, letra Times New Roman 12, com espaçamento 1,5. É fundamental citar as obras referidas no texto, mas isso não será necessariamente feito aos moldes da ABNT (porém, não há problema o aluno segui-los, se quiser).
COMO PAGAR?
Há duas opções de pagamentos:
1. PIX direto no valor de R$ 3.000,00 (com direito a Nota Fiscal feita pela minha empresa, se o aluno quiser; é necessário apenas me enviar os dados, como nome completo, CPF – ou CNPJ, se for via PJ – e endereço). Repassarei ao interessado a chave para o depósito quando ele me procurar no endereço de e-mail assinalado no final deste texto.
2. Pagamento no cartão de crédito no valor de R$ 3.150,00, via Hotmart. Você pode escolher o número de parcelas que desejar (até 12x). O acréscimo na soma é para cobrir as taxas na hora de dividir a quantia. Se optar por essa alternativa, eu lhe enviarei o link de compra pelo e-mail de contato (ver adiante).
É importante frisar que não haverá reembolso do valor. Se acontecer algum problema com o aluno, é só ele me procurar.
Assim que o estudante fizer a inscrição e o pagamento, seja pelo Hotmart ou pelo e-mail de contato que será divulgado logo abaixo, ele receberá via e-mail o primeiro texto da programação e será incluído no grupo de WhatsApp com os outros participantes. Os encontros individuais serão marcados de acordo com a necessidade do aluno e conforme a realização da ementa, dentro do prazo estabelecido no cronograma da oficina.
Agora, eu sei que as pessoas irão comentar sobre o preço da oficina. É caro?
Não, se você observar que este projeto é, na verdade, a síntese de tudo o que eu fiz nesses últimos 23 anos de trajetória profissional.
Vou ensinar-lhe os princípios que aprendi no meu mestrado (PUC-SP), no meu doutorado (USP) e no meu pós-doc (FGV), além daquilo que apliquei nos cinco livros que já escrevi, nas dezenas de ensaios e artigos jornalísticos que publiquei na mídia e nos relatórios que fiz para empresas de telecomunicação e do terceiro setor.
Durante todo esse tempo, tentei ser também um observador engajado, seja nos meus acertos, seja nos meus fracassos. Posso dizer que, até agora, eu atingi este objetivo, sempre mantendo a minha independência e sem ter rabo preso com ninguém. E eu queria compartilhar isso com você, por meio do meu trabalho.
Não sei se haverá uma próxima oficina de análise política. Espero que seja a primeira de muitas. Mas também não podemos, neste momento complicado da nossa História, deixar de lado as ideias, as crenças e as paixões que nos animam a ensinar, a estudar – e a observar.
Se você se interessou pelo programa acima, e quiser tirar quaisquer dúvidas, é só me procurar retornando esta mensagem e no e-mail martim.vasques@gmail.com.
Até a próxima,
MVC